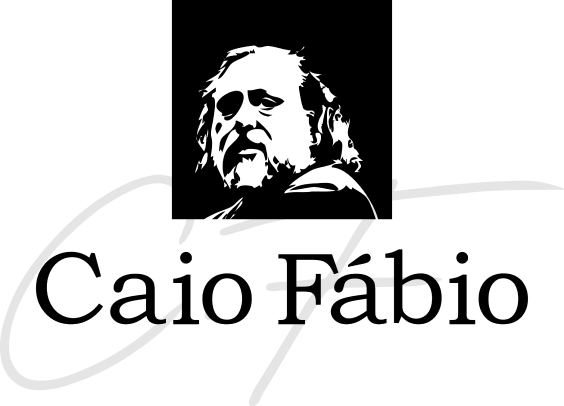Querido Caio,
Preciso da sua ajuda, meu caro. Já lhe escrevi várias vezes, mas esta é a primeira em que peço socorro. Sei, todavia, que há muitos com problemas muito mais graves do que o meu, e que necessitam de atendimento emergencial. Portanto, se você demorar a me responder, vou entender. Se não puder responder, naturalmente vou me entristecer, mas vou entender também.
Acho que não vou conseguir ser muito linear.Portanto, o mais provável é que eu vá lhe contar um monte de fatos isolados e aparentemente desconexos. Mas sei que você é mestre em ajuntá-los.
Começando pelo fim: NÃO ESTOU CONSEGUINDO TRABALHAR.
Simplesmente “travo”—e não “reinicializo”. Trabalho em casa, e isso ajuda a atrapalhar. Mesmo agora, enquanto escrevo, olho para o meu trabalho—um calhamaço acadêmico pra ser traduzido—e sinto algo muito esquisito. Ansiedade, coisa que eu já não sentia há tempos. E, em seguida—sinceramente—, medo.
Basicamente, medo de perder o emprego e a grana com que sustento a mim e à família. Tenho esposa e filho pequeno.
Sou formado em letras e vivo disso. Também faço muitas traduções técnicas. Meu chefe é alguém a quem prezo muito, e não quero desapontá-lo.
Pois bem… Estabelecemos um prazo para eu entregar o trabalho. Mas já estou no fim do prazo e, até agora, só fiz uns 20 por cento dele. É evidente que não vou conseguir cumprir o prazo – a menos que trabalhe umas 15 horas por dia, sete dias por semana, e com total eficácia.
Isso já aconteceu antes. Não é, portanto, a primeira vez. Acho que isso foi relevado por causa do vínculo afetivo que se estabeleceu entre eu e meu chefe, que é uma pessoa muito legal. Talvez, pela boa qualidade do meu trabalho – não tenho mais a frescura de ficar me auto-depreciando. É engraçado: mesmo quando fiz tudo correndo feito louco, recebi elogios dele.
Mas desta vez, meu caro… Tá difícil! Estou trabalhando de modo espasmódico, literalmente. E, por mais que eu lute – ou tente não lutar – contra isso, nada muda. Nada! Minha mulher me entende, mas sei que, no fundo, este medo que sinto agora, ela o tem sentido há muito, muito tempo.
Que esposa, afinal, está a fim de não ter mais, todo santo mês, a graninha que garante uma certa estabilidade, ainda que essa grana seja pequena?
Todavia, esse pouco se torna muito. Dependendo do caso, se torna tudo – financeiramente falando.
Somos casados há um bom tempo, e sabemos o que é não ter um centavo, durante meses a fio. Sabemos o que é ter, durante semanas, só arroz e feijão pra comer – ovo é um luxo nos dias mais difíceis! Sabemos o que é desenvolver fobia de toque de telefone, pois sempre podia ser um credor. Aliás, até pouco tempo atrás, eu só atendia ao telefone se minha esposa não estivesse por perto para atender. Às vezes eu o desconectava quando ela saía.
Quando nosso filho nasceu eu estava desempregado. Desse modo, caí, então, nas garras do Banco do qual era cliente. Tudo era tão “fácil”, afinal: bastava ir ao caixa eletrônico, apertar umas teclas e pronto: empréstimo concluído. Depois que voltei a trabalhar, tentei entrar em acordo com eles, mas a proposta que me fizeram – e foram irredutíveis – foi tão indecente, tão ultrajante que movi ação judicial contra eles. Mas até hoje meu CPF tem uma inclusão que eles fizeram no CCF e na Serasa.
Entendo o medo da minha mulher, e não fico enchendo a paciência dela. Antes, vendo o quanto eu estava “behind schedule”, ela me pressionava, mas, vendo que isso era contraproducente, sabiamente ela deixou de fazê-lo.
Agora, regressando à fase intra-uterina…
Bem, nem tanto! Mas acho que devo dizer algo sobre minha vida pregressa, pra que você junte algumas peças do quebra-cabeça da minha alma.
Tenho 39 anos. Minha mãe era (e é) totalmente cega, embora seja uma mulher de muita visão. Meu pai (falecido) era totalmente cego de um olho, e parcialmente do outro, mas transitava tranqüilamente na metrópole desvairada.
Sabe quando você diz que só percebeu que o seu pai usava muleta quando um colega no Rio lhe “despertou” para o fato?
Pois é, comigo foi um tanto parecido. Lá na minha cidade fui um moleque muito feliz: meu pai era um cara que, como todos os outros pais, saía todo dia para o trabalho – tinha uma banca de jornal, em sociedade com um tio meu –, e minha mãe era a dona-de-casa típica. Fazia (e faz) absolutamente tudo em casa. Ambos fizeram um ótimo curso de reabilitação na para deficientes visuais. Ambos se destacaram, cada qual a seu modo, no curso, que incluía uma oficina real com diversos tipos de trabalho. Minha mãe, embora emocionalmente intensa demais, demonstrava extrema habilidade e rapidez na execução das tarefas. Meu pai, por sua vez, evidenciava uma estabilidade emocional quase fleumática, o que chamou a atenção dos psicólogos de lá e lhe rendeu, inclusive, medalha de “honra ao mérito”.
Foi lá nesse curso que eles se conheceram e vieram a se casar.
Até os meus 10 anos, tudo estava maravilhoso. Na escola, já entrei sabendo ler e escrever bem desde os dois anos anteriores – meus pais “cegos” me alfabetizaram! Minhas notas estavam sempre entre as melhores da turma. Eu tinha meus amigos, meus colegas, meus problemas seriamente bobos de moleque, e tudo ia “muito bem, obrigado”…
Mas, então, por minha causa, meus pais tomaram uma decisão que foi “a morte” pra mim: mudar-se pro interior. A violência na cidade grande crescia assustadoramente, e eles, apavorados, não queriam expor o único filho àquilo.
Então mudamo-nos, contra a minha vontade infantil, para o interior, longe da capital, lá deixando dois dos nossos três cachorros, e o nosso gato. E a minha vida toda até então.
Na cidade do interior adorei o ar despoluído, e até respirava com prazer, em grandes haustos. Dava quase pra sentir o gosto do ar! Todavia, isso era, acho, a única coisa boa. Odiei o provincianismo daquela gente. Quase todo dia alguém me parava na rua – a grande maioria, por pura curiosidade mórbida – para perguntar coisas que eu não entendia por que estavam sendo perguntadas, já que, para mim, tudo aquilo era tão obviamente natural. Só então eu comecei a perceber que era “filho de cegos”.
“Ô garoto, a sua mãe não é cega? Como é que ela consegue fazer as coisas em casa?”
“Ei, menino… O seu pai já nasceu cego?”
“Ei… Você também tem problema de vista?” (graças a Deus, tenho ótima vista – o problema individual dos meus pais é totalmente idiossincrático)
E a pior pergunta idiota de todas, a que realmente começou a machucar a minha alma:
“Ei, você… É, você mesmo… É você que é filho do ceguinho?”
Caio, meu irmão, você pode imaginar a des-Graça que uma porcaria dessas causa na alma de um moleque de dez anos? Dói, meu caro. Dói muito. Mais do que eu possa descrever.
Aliás, dói agora. Por isso as lágrimas caem… Que caiam, porque não vou reprimir nenhum bicho que, porventura, esteja na alma e queira me dizer: “Cara, ainda tô aqui, te infernizando!” Que caiam lágrimas e revelem que bichos são esses, pois, como você mesmo frisa sempre, “tudo que se manifesta é luz”.
Vai, Asterium, mostra a cara! Meu choro não quer dizer que tenho medo de você. Meu choro, monstro, aponta para a libertação. Apareça e você vai ver! Vai virar estrela! Mas apareça de vez! Pare de ficar vagando aí pelas avenidas da minha alma e apareça, quero te ver. Quero te ver virar estrela. Não tenho medo de você. Não mais!
É, meu caro, agora começo a achar que a coisa deve ser mais séria do que pensei. Isso porque, depois do “não mais” do parágrafo acima, tive, de fato, uma crise de choro. Agora, refeito, voltei.
Sabe, Caio, hoje tenho 39 anos, e nunca falei disso com ninguém nestes termos. Nunca confiei isso a ninguém, exceto a um só amigo-irmão. Mas com você é diferente.
Bem, vou tentar ser mais conciso e objetivo. É que está difícil, mas vou tentar.
Pois bem… Pra piorar tudo, quatro meses depois de chegarmos à nova (e, na época, odiosa) cidade, meu pai teve o olho bom (digo, quase bom) perfurado por uma úlcera, e, mesmo após duas cirurgias, perdeu totalmente a vista. Mas era um homem de muita fibra, e nunca se deu por vencido. Afinal, desde a infância, quando sofreu, na lavoura, um acidente que lhe tirou a vista de um olho e passou, então, a ser visto pela família & amigos como um coitadinho que nunca seria ninguém na vida, tendo de provar dia após dia a sua capacidade como homem completo (de tal modo que, até hoje, ele é figura lendária na sua cidade natal), não iria se render pela perda total da vista, já que visão tinha de sobra. Ele continuou decidido a sustentar a família com o labor das próprias mãos, e tomou providências para isso.
Era um homem extremamente carismático (ah, se eu tivesse ao menos uns dez por cento daquele carisma!), de modo que, em pouco tempo, fizera amizade com um monte de gente, entre as quais, pessoas que poderiam ajudá-lo a viabilizar seu desejo de continuar a trabalhar. E assim foi. Virou um quitandeiro que vendia mais do que quitutes, doces, etc: vendia – aliás, NÃO vendia; compartilhava – o próprio ser com os seus fregueses. Estes eram, além de muitos adultos, a molecada do 1o e 2o grau de duas escolas que ficavam frente a frente. Todos o amavam! Ali havia uns 5 quitandeiros com materiais comercialmente mais atraentes que os dele, mas era para ele que todos convergiam. Tinha o apoio até da direção das duas escolas. Tornou-se amigo íntimo e estimado da diretora do colégio onde completei o 1o grau.
Todos o amavam. Eu, porém, odiava a situação.
Caio, eu ODIAVA, com todas as forças do meu ser, não o meu pai, mas o fato de ter de ajudá-lo com o trabalho. Eu odiava VISCERALMENTE ter de acordar de madrugada (sempre fui notívago) para ajudá-lo a preparar o “carrinho” para o trabalho do dia, que terminava junto com o expediente escolar, lá pelas 5 da tarde. Mas tive de fazer isso durante anos seguidos, até que fui embora da cidade, quando eu já tinha 23 anos.
Eu não odiava o fato-em-si, mas sim o fato de que TODO MUNDO ESTAVA OLHANDO. Tinha vergonha de ajudá-lo, porque, afinal, ele trabalhava em frente à minha escola. Meus colegas “viam tudo”. As muitas meninas por quem me apaixonei “viam tudo”. E todo mundo “via tudo”, de tal forma que, mesmo fora do trabalho, quando eu o conduzia pela cidade pra resolver outras questões, eu sentia o olhar de todos abrindo buracos nas minhas costas. Afinal, naquela cultura provinciana, eu era o diferente, o “filho do quitandeiro ceguinho”, o imbecil-mor da cidade, o Zé Ninguém, o cara que nunca ia ser ninguém na vida.
O carisma do meu pai não me adiantava nada.
As minhas notas escolares sempre altas de nada valiam.
A igreja a que íamos (e sempre fôramos, desde a capital) só prestava pra aumentar as minhas culpas.
Nada significava coisa alguma pra mim naquele tempo. Exceto, talvez, as paixonites, o gosto pela leitura, e, confesso, a explosão da sexualidade na forma de “n” masturbações por dia, fantasiando com um “zilhão” de mulheres. Ao final, claro, sempre me sentia um animal imundo perante Deus, pedia perdão, etc…
Mas me incomodava profundamente o que eu interpretava como obsessão de meu pai pelo trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho… Pô, parecia que só isso é que valia pra ele! E o problema era que, agora, EU estava envolvido naquela obsessão, pois, diferentemente da vida normalzinha na Cidade Grande, no interior ele dependia de mim – ou de outros – para se locomover devido à perda total da vista. Dependia de mim pra chegar antes do começo do horário escolar, e eu odiava ter de “levantar antes de acordar”. Eu era um zumbi.
Houve até dias em que, devido ao meu atraso (a lentidão matutina me acompanha até hoje), ele perdeu a paciência e “se mandou” sozinho pro trabalho, com sua bengala, aos tropeções, até que eu, correndo, o alcancei, a vários quarteirões de casa.
Outro incidente com desdobramentos:
Aos 11 anos, tive o primeiro episódio fóbico da minha vida, durante a aula da professora de quem eu mais gostava, e que também me elegera um dos “queridinhos” devido ao fato de eu, juntamente com mais uns dois na sala, alcançarmos o “standard” por ela exigido. E era alto.
O primeiro episódio, que mencionei, ocorreu enquanto a minha professora predileta caminhava entre as carteiras observando os alunos redigirem algo e, eventualmente, fazendo algum comentário, alguma correção, etc. Certo dia, ela parou ao lado da minha carteira, e eu, que desenvolvera uma caligrafia quase tão perfeita quanto a dela, de repente tive a coisa mais estranha que já havia sentido até então. Do nada, minha letra bonita virou uma coisa semelhante a um gráfico de ECG. Minha respiração ficou absolutamente irregular – quase tive uma anóxia. As palmas de minhas mãos suavam como as de um condenado à morte… E a sensação de morte iminente tomou conta de mim. Era a primeira vez que eu vivenciava o “teatro da morte”, como diz o Augusto Jorge Cury. Daí por diante, fui desenvolvendo diversas fobias, que acabaram por caracterizar a síndrome do pânico. Só que, na época, nem os médicos sabiam o que era isso. O mal simplesmente não tinha sequer nome. Sofri anos muito difíceis.
As coisas com meu pai também não melhoraram. Eu me sentia cada vez mais envergonhado de ser o “filho do ceguinho”; cada vez mais aborrecido por ter de alardear isso ao mundo pelo fato de ter de ajudá-lo com o “carrinho da birosca”. Quando eu tava a fim de uma menina, jamais mencionava nada disso. Aprendi a “atuar”. Capitalizando sobre os talentos que Deus já me dera, eu ia construindo uma coisa “fake” de mim mesmo – uma imagem que não era eu, mas era correspondente ao que eu achava que ia impressionar – pra exibir pras meninas e pro mundo.
Aos 18 anos, meu pai me ajudou a comprar um carro – pra família, como ele enfatizou. Ele me coibiu algumas vezes, mas, por óbvio, o que zoei naquele carrinho foi algo absurdo – embora, talvez, esperado. Rachas, meninas… Mas se estou vivo, e lhe escrevendo agora, foi por pura graça de Deus.
Paradoxalmente, foi também dentro daquele mesmo carrinho que eu me converti de verdade!
Caio, já tomei seu tempo mais do que deveria. Desculpe-me, querido. Definitivamente, não sei ser conciso!
Fato é que preciso de ajuda nessa questão específica do trabalho. Ora, eu trabalho desde os 11 anos – sempre em funções não-braçais, o que foi, desde sempre, uma exigência de meus pais (típico de gente que tem muita visão). Nunca tive medo de trabalho. Não sou preguiçoso. Não me considero “enrolado”, visto que, quando o trabalho me agrada, faço-o com prazer, rapidez e eficácia. Deus sabe!
Agora, todavia, estou “travado” com relação ao trabalho que falei. E, como disse, não é a primeira vez.
Caio, será que estou sendo egoísta demais ao fazer bem só aquilo que me apraz? Ou isso é natural? Afinal, a imensa maioria das pessoas – ao que me parece – trabalha no que não gosta, não tem amor pelo que faz, e só o faz pela pura e simples necessidade da grana! E eu? Nem isso tenho conseguido fazer!
Será que sou mesmo “preguiçoso”, “enrolado”? Será que, em nome da sobrevivência, tenho de fazer algum tipo de reserva mental e trabalhar em algo que detesto?
Meu querido amigo, a sua avaliação da minha situação seria, para mim, mais valiosa do que você possa imaginar.
Sei que escrevi “pra caramba”; sei que abusei do seu tempo e da sua boa-vontade de ajudar… E sinto-me até um tanto culpado por isso, visto que, como já disse, este meu problema é nada, se comparado ao de outros. Todavia, este é o MEU problema, e só o que quero é entendê-lo melhor e ME entender melhor, para que a Graça do Pai possa permear também essa dimensão da minha vida, que não posso me dar ao luxo de menosprezar.
Obrigado, obrigado e obrigado, meu querido irmão-pastor.
Deus mesmo te recompensará por tudo – o que, aliás, ele já tem feito, e continuará a fazer.
A sua vida é uma grande bênção para mim, como sempre foi, desde que conheci, há muitos anos, os seus livros e outros materiais seus. Você sempre esteve em meu coração, e, indelevelmente, sempre estará.
A gente se vê em Brasília, no Caminho da Graça.
Um grande beijo,
_____________________________________________________________________________________
Resposta:
Meu querido amigo: Graça e Paz!
Sua carta é linda, bem escrita, coloquial, cheia de graça, e plena de humanidade.
Fiquei encantado!
Bem, vamos aos fatos da carta…
Você disse: “Fato é que preciso de ajuda nessa questão específica do trabalho. Ora, eu trabalho desde os 11 anos – sempre em funções não-braçais, o que foi, desde sempre, uma exigência de meus pais (típico de gente que tem muita visão). Nunca tive medo de trabalho. Não sou preguiçoso. Não me considero “enrolado”, visto que, quando o trabalho me agrada, faço-o com prazer, rapidez e eficácia. Deus sabe!”
Devo começar perguntando: “Quando o trabalho agrada” ?
Pergunto isto porque você parece tratar seu dom extraordinário de escrever como uma imposição do legado de cegos que tinham “visão”, porém não afirmou se isso tem qualquer coisa a ver com você, com sua escolha e com sua vontade. “Trabalho desde os 11 anos – sempre em funções não-braçais, o que foi, desde sempre, uma exigência de meus pais”.
Trabalhar em funções não-braçais e que foram “exigência” dos pais não estaria oprimindo você?
Pergunto isto mesmo que você goste do que faz, mas sinta-se oprimido pelo simples fato de que a não-braçalidade da atividade é uma “exigência dos pais”?
Que você tem um dom lindo quanto a escrever e fluir, para mim está obvio. Mas a questão é que você pode ser tão bem dotado e em tantas áreas, que desenvolver mais esta, de acordo com a vontade “visionária” de seus pais, poderia ter sido fácil para você, mas não necessariamente a sua “escolha”. Ou pode ser que sim, que seja sua escolha também, mas que ficou poluída pela emocionalidade da escolha de seus pais, que não deram a você outra alternativa…
Na realidade me parece que você continua “acordando às 5 da manhã para empurrar aquele carrinho de pipoca”, e, também me parece que você continua a ter raiva de ser “filho do ceguinho”, talvez não mais por literalmente ter que empurrar o carinho estigmatizado pela cegueira obstinada de seu pai, mas porque empurra o “carrinho de pipoca de letras” que eles lhe legaram.
A questão, para mim, não parece estar no “carrinho de letras”—que eu acho que você gosta de empurrar—, mas sim na questão do “legado”.
Digo isto porque é perceptível sua gratidão compulsória e orgulhosa em relação aos seus pais, ao mesmo tempo em que é possível perceber muito ressentimento difuso.
Você disse que tinha preguiça e raiva de fazer aquele trabalho que seu pai o obrigava a fazer, enquanto repetiu várias vezes que não é preguiçoso, e que depende apenas “do quê” você irá fazer.
Ora, fazer o que se gosta de fazer com prazer, até os mais preguiçosos o fazem!
Portanto, não prova nada. Eu também adoro fazer o que eu adoro fazer. E é assim com todos. Não conheço ninguém sadio e que adore fazer o que detesta.
A questão, me parece, está num “nó” que junta o “pai ceguinho”, o “carrinho de pipoca”, a obrigação de se identificar com o seu pai e o trabalho dele “publicamente”, a raiva da insistência dele em chamar você para as margens de um estigma social, e, sobretudo, quando o que você faz, mesmo não sendo o que eles faziam, é ainda um “legado da visão deles” para você.
Ou seja: mesmo empurrando o carrinho de letras você se sente empurrando o “legado e a escolha” do pai ceguinho…
Na base disso tudo existe ressentimento, depressão, preguiça e desmotivação…
E uma coisa gera a outra em você, sendo que, sinceramente, não sei se é a preguiça que gera a depressão ou se é a depressão que produz a preguiça… no seu caso. Mas me parece que o ressentimento está na essência de todas as coisas…
Eu disse a pouco que achava que você gostava de “empurrar o carrinho” que lhe foi “legado” por seus pais.
Ora, com tal afirmação eu estou declarando que abaixo de todas as demais coisas por mim descritas antes como estando no fundamento do problema, havia uma coisa básica: ressentimento.
Ressentimento é um sentimento que se faz sentir sempre outra vez…
Again and again…
É como alguém “empurrando um carrinho”… Exatamente a mesma coisa. O ressentido empurra o carrinho para sempre…
No entanto, esse “gostar de empurrar o carrinho” é também algo de outra natureza, posto que é a sua ‘desculpa’ para não se aventurar a “parar de empurrar o carrinho”, sob pena de se sentir culpado e ingrato para com os pais. Todavia, provavelmente, essa seja apenas a ‘desculpa’, visto que de fato você “usa o carrinho”, o “ceguinho”, e a “pipoca”—e sobretudo o “legado”—, a fim de não ter que se encarar e decidir se empurra o carrinho porque quer e gosta… ou, se empurra apenas porque tem medo de ver no que pode dar… no caso de você se aventurar a qualquer outra coisa. Aqui aparece o “pânico” de não saber se larga o “carrinho” e anda com as próprias pernas…
Me parece que você tem medo de saber se se banca ou não!
Desse modo, você gosta de “empurrar o carrinho” na mesma medida em que odeia fazer isto.
Suas fobias e síndromes de pânico se alojaram nessa fenda.
Tudo isso é alimentado por um forte sentimento de rejeição pessoal, e que não se deriva de seus pais—que amavam e acolhiam você, e não tinham culpa de ser cegos—, mas dos olhares do “outros” sobre você. Rejeição social.
“Lá vai o filho do ceguinho”—é uma voz que ainda se faz ecoar em você como rejeição e estigma.
Ora, essa rejeição gera imaturidade, posto que aquele que se sente rejeitado também teme crescer antes de ser aceito. E como para crescer a pessoa tem que não temer se aventurar na vida, aquele que teme nunca amadurece, posto que o medo o impede de crescer…
Há muita coisa a fazer… e todas elas demandam a ajuda de terapia.
1. Você precisa ver se quer continuar a empurrar o carrinho de letras, por mais belas e gostosas que sejam as pipocas de letras que você faz…
2. Você precisa… no caso de continuar com as letras… dissociar isso da compulsoriedade relacionada ao seu pai no que tange ao trabalho. Isto porque em você trabalho e obrigação andam juntos no mesmo “carrinho”… seja ele qual for.
3. E para piorar… você ainda empurra o “carrinho de letras” dos outros, posto que também faz traduções; ou seja: tem que dar sabor lingüístico à pipoca de letras que você não fez.
4. Você também precisa me explicar melhor o significado do casamento para você; sim, não só do casamento, mas também da paternidade. Digo isto porque no seu quadro ambas as coisas podem acentuar profundamente a depressão.
Assim, meu querido amigo, por hoje apenas devolvo sua carta com algumas sugestões de reflexão pessoal, e a dica de que um terapeuta lhe fará muito bem.
Pense, reflita, e me escreva!
Enquanto isto, com vontade ou sem vontade, cumpra o seu “programa de trabalho” conforme o combinado, ainda que seja suando frio, como muitas vezes acontece comigo, respondendo um monte de cartas… em dias em que não estou “a fim de…”, mas respondo assim mesmo.
Sua carta me revelou um ser humano belo e complexo, e ao qual quero me associar em carinho, amizade e amor. Me escreva. Este é só o start…
Nele, que nos chama para nossa própria vocação,
Caio